
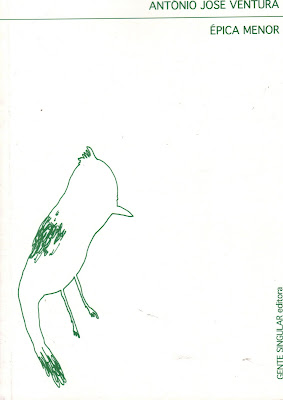

Posfácio à obra poética
As palavras principais em Épica Menor de António José Ventura
“1. É muito difícil ter cabeça para escrever; tão difícil como ter cabeça para ler!
E, contudo, como é fácil escrever… basta apenas sabê-lo.”
(Mário Saa, A Explicação do Homem atravez duma auto-explicação e em 207
táboas filosóficas, Lisboa, 1928)
Levando em conta o excerto epigráfico, iluminante para o caso, começo por dizer que a poesia de António José Ventura é um caso de boa literatura e de competente escrevivência. E estaria tudo dito, porque o que importa é o macrotexto poético que sugere a apreciação. Umas poucas palavras, no entanto, como diria um esquecidíssimo Tomaz de Figueiredo.
Em reversa euforia genológica, o livro de António José Ventura é e será sempre um objecto literário alarmado, instaurador de perplexidade e de interioridade dilemática. De facto, o valor catafórico do título (Épica Menor, lembro), sem escavação textual ulterior, afirma-se sem despiste: a narrativa poética inscrita é a de uma particular voz que “grita” da casa da poesia uma aventura única decantada em estados íntimos, em momentos quotidianos, breves e profundos – como mitigar a univocalidade dos melhores poetas ou bachtiniano “mundo ptolomaico”, se o ofício poético é ele mesmo um ardimento na margem futurante?!...
Alicerçada em esteios autorais (Tom Stoppard, Paul Celan e Camilo Pessanha) e em portas dilucidativas alógrafas de função ideológica, esta Épica Menor, que inclui ainda num dos passos uma dedicatória a Octave Mirbeau, encontra a sua unidade na quádrupla partição (“A casa, o mundo e as estações”, “Os lugares de chegada”, “No Palácio de Estói” e “O jardim”) submetida ao inderrogável poder unitivo da palavra.
E da palavra parte este acto hermenêutico para relembrar o brilhante paratexto stoppardiano que reposiciona o acto criativo em admonitório “locus solitarius” que permite a fruição de rilkeanos objectos principais que serão tema e mitema. De facto, é de casa, de mundo e de estações que se alimenta esta primeira parte, toda ela explosiva dos geodésicos titulares encravados na propulsão genésica da palavra: como no texto bíblico, a criação dimana das palavras “construtoras” (“As palavras são para ser usadas / na construção da cidade”) e da ambiência aquática, profunda e purificadora: “o mar ao longe espreitando o horizonte / de barcos e velas de navios.”
O poeta constrói e desconstrói (a cidade abre-se à ria e à memória esventrada), construindo sempre um espaço único, desoladamente poético, intimamente devastado pelos fungos da peste do contágio hodierno: e vêm ao texto motivos fragmentários e capciosos, de sabor pós-moderno, como o da cidade desaparecida (lembrem-se poemas como “A cidade estagnada”, “Intempérie”, “O mês de Fevereiro foi aziago” ou “Sono”, onde o espaço cosmopolita estagna, se afunda, se decompõe, se fragiliza...
Sem tempo, o poeta escava as raízes, sendo a casa e o mundo, fluindo no trem estacional da desmemória por veredas internas e externas encaixadas num tempo suspenso: “As coisas são o que são / e permanecem imóveis / neste Estio com restos de barcos / escorrendo pelas esquinas” (“Deriva”). E assim o poeta devassa a interioridade (“A luz que entra pelas janelas / revela os segredos dos deuses”, em “Sul (dois)”), connosco percorrendo os lugares da casa e os lugares do corpo, contra a clepsidra do tempo.
Fluido mas denso, o fluxo poético venturiano alimenta-se de vozes e vectores de influência (e lembrar “Variação sobre um poema de Yeats” soa a tautologia), não desusando a marca cultural, como acontece no incipit textual que, ao referir que “O paraíso é um café de Portimão”, convoca no passo o eco de Walter Benjamin que afirma serem as cervejarias a “chave de qualquer cidade” (Rua de Sentido Único). Segue o explicit do mesmo poema pela toada quotidiana, garçoniana, ao jeito do soneto “O louro chá no bule fumegando”, lembrando que a melhor poesia é vida e pequenos prazeres.
Assomam ainda nesta primeira parte pequenas explosões poemáticas que são interessantíssimas artes poéticas. Lembro, em benefício de inventário, os textos “A inspiração não é um mito romântico” ou o ducassiano “Sou um arqueiro dum exército em fuga”.
De repente, o Poeta chega ao lugar, à segunda morada que é o corpo. Carnal, o novo andamento desta Épica pode inscrever-se emblematicamente no valeryano tempo “d’ un sein nu / Entre deux chemises” (P. Valéry, “Le Sylphe”). Rente ao sal da pele, a palavra é corpo e deflagração erótica. O sujeito poético dedilha o corpo da mulher (“Passei a mão / pelo teu corpo dos pés aos cabelos”), abrindo veredas com o saber da língua (“A minha língua envolveu-te os seios / que sabiam a sal e a morangos”). As lexias apuram-se como deusas do corpo, sugerindo, sugerindo sempre: “lábios / suaves como veludo”, “pupilas dilatadas”, “clarão da explosão”, “ondas concêntricas no branco” e a primeira parte do poema “O sexo” são claro exemplo de uma profunda pregnância erótica tonalizada disforicamente por um certo desalentamento (v. g., “Manual do sentimento” ou “Último tango em Paris”) que promove uma dor claramente lírica.
Outro lugar fica “No Palácio de Estói”. E o poético que fica é a areia da memória e a “épica” da corrosão. Abrindo-se a parte pela morte do dia (“Morre o dia”), é de morte que a aproximação do olhar poético ao lugar eleito fala: a inquirição sobre o que se passará no palácio naquele instante logo responde com “os capitéis das colunas gastas pelo tempo” e com o “cenário da sombra ausente / dos habitantes mortos.” Já no portão, torna-se iniludível o lugar de devastação: o segundo poema fala de “lugares desabitados” de que a cidade se quer infensa, como se a ocultação não fosse a mais clara afirmação da peste. O lugar habita o pântano, parado sítio em que um “vetusto torreão / é o senhor da paisagem”. Em volta, tudo jaz abandonado, vazio e o tempo tornou as coisas inúteis. Atento, mágico, o mármore fixa a queda.
Luminoso, um jardim vem ao macrotexto venturiano, para encerrar a viagem poética. E da luz ao embaciamento vai um nada, nesse centro edénico se lavrando um “espaço de imobilidade” denegador, onde “Não existem caminhos / não há de onde nem para”. A primeira composição, “O jardim poema”, é abundante de ‘nãos’ e de ‘talvez’, afirmando assim um trabalho de crença recolhido na palma da mão, aí onde o labor poético pode recriar o mundo.
Neste jardim dessorado existe uma história esquecida, um “outrora” e um “agora apenas” que entrechocam, com espectadores privilegiados que a tudo assistem, como acontece com aquele banco imóvel do penúltimo poema, assim sublimemente parado como estática e poética é a última e devastadora ambiência.
É um arguto João de Araújo Correia quem,
Viseu, 25 de Junho de 2008
Martim de Gouveia e Sousa
[http://www.gentesingular.pt/]







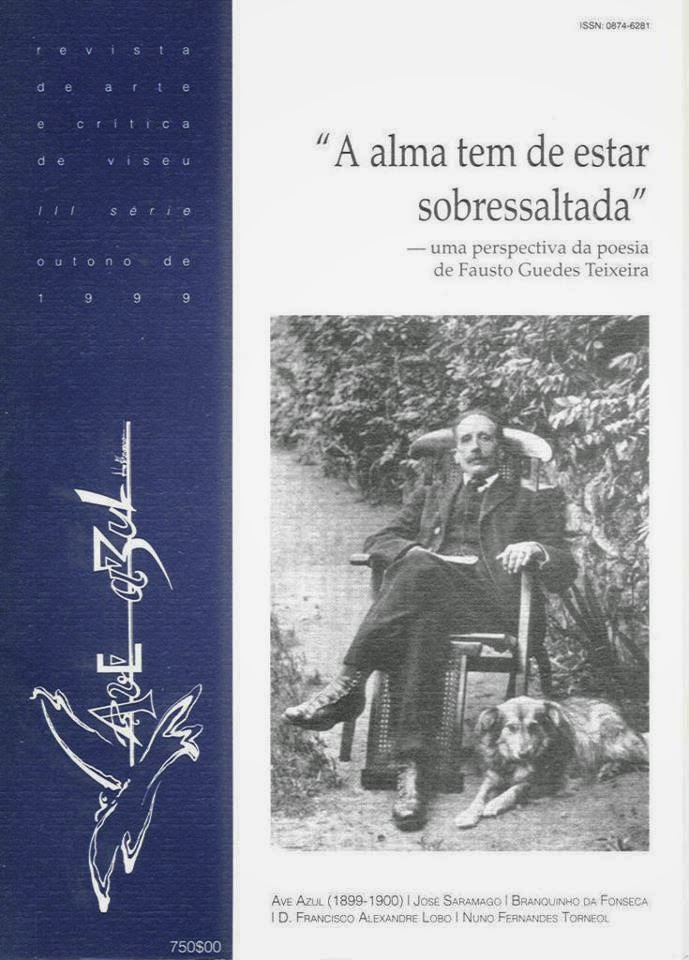
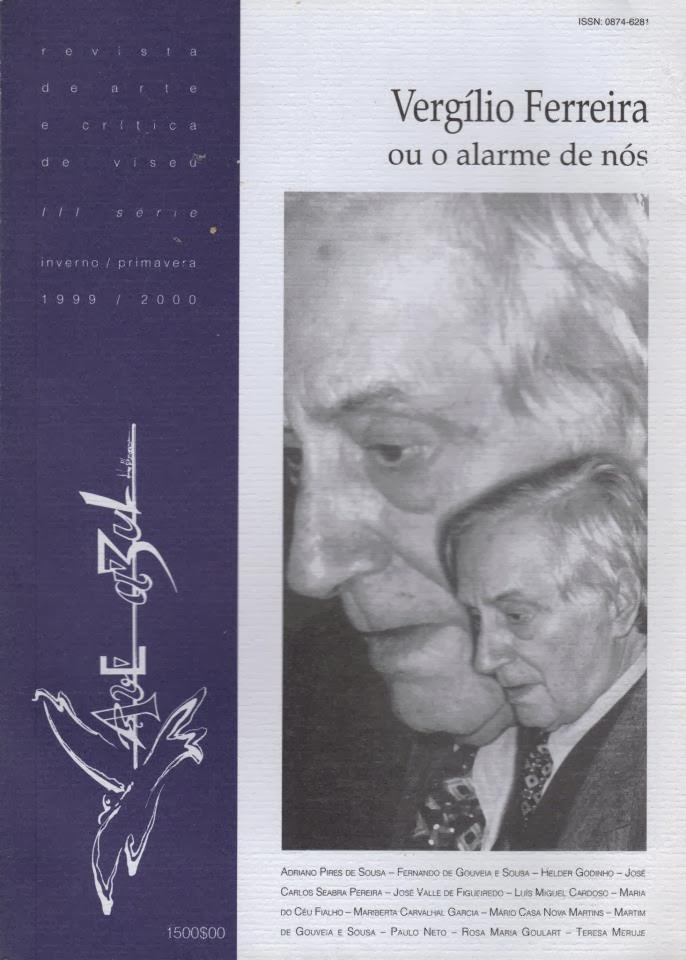

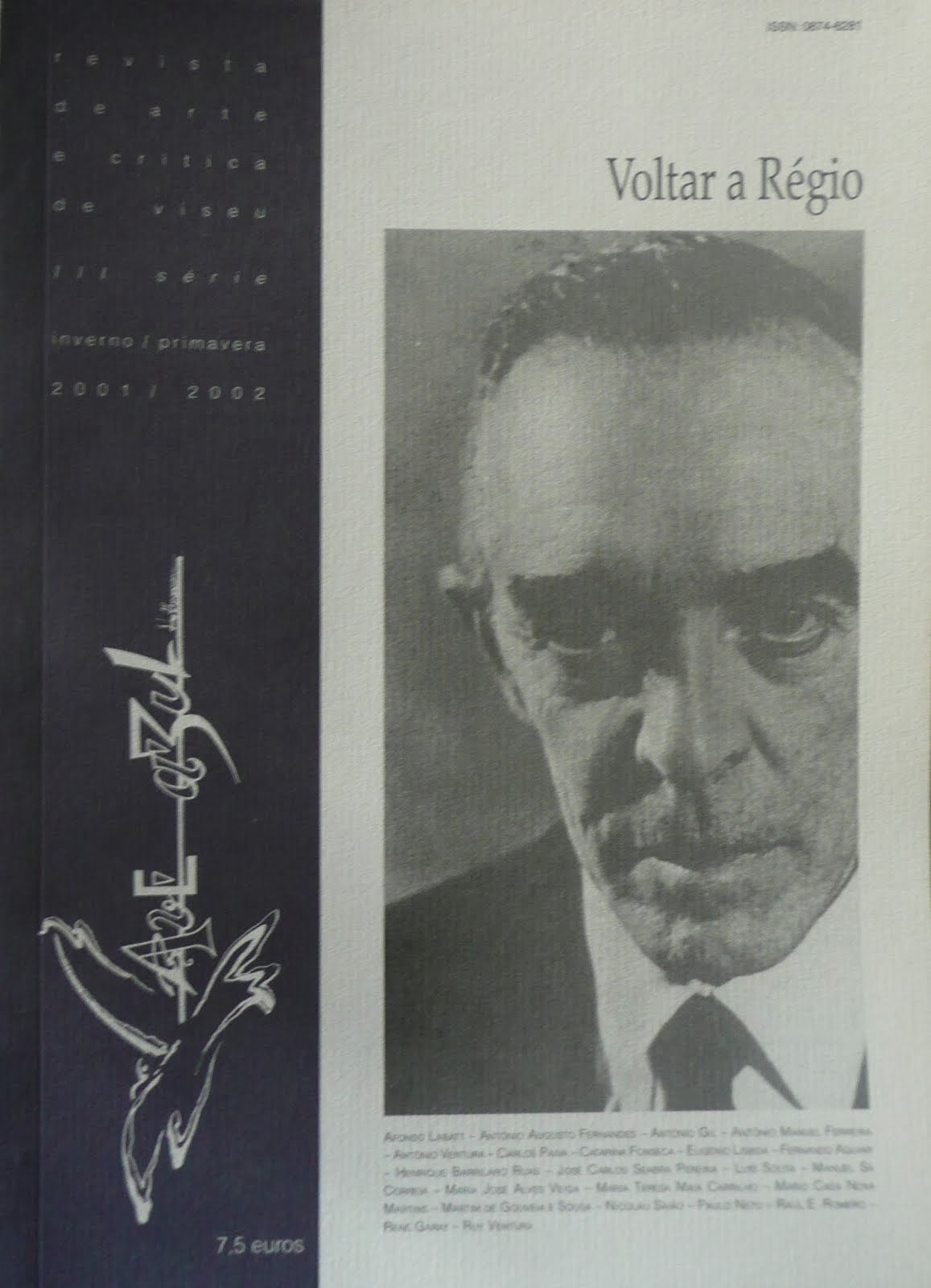









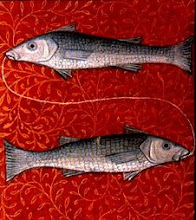

Sem comentários:
Enviar um comentário