
Os Tecidos
... Pelo menos, enquanto passeavam pela Quinta Avenida, com suas saias movimentadas pelo vento, pareciam notadas por todos. Rapazes letargicamente pastando diante de bancas de jornais endereçavam-lhes murmúrios, exclamações e – o supremo elogio – fiu-fius. Annabel e Midge passavam por eles sem sequer a condescendência de se apressarem, empinavam os narizes e acertavam o passo com marcial precisão, como se estivessem pisando no pescoço dos transeuntes.
Dorothy Parker, O Padrão de Vida
Quando, aos dezesseis anos, meus pais me disseram que naquela quinta-feira eu teria de lanchar com uma senhora chamada Júlia, meus joelhos amoleceram e entrei infeliz no carro por não ter comigo um pequeno frasco de veneno (nessa época, eu era dramática). Eu não era o exemplo ideal de feminilidade e popularidade entre as meninas da minha idade e não tinha absolutamente nada para fazer naquela tarde, e já havia escorrido pelo ralo a esperança de ser convidada para integrar o seleto grupo das divas do Minas Tênis Clube e do colégio onde meus pais me matricularam assim que nos mudamos para Belo Horizonte.
De belo o horizonte não tinha nada. Aliás, nem horizonte tinha. De repente ele fora comido por montanhas gulosas que circundavam a cidade e me provocavam a incômoda sensação de que de uma hora para outra também me comeriam, espremendo-me, quebrando meus ossos, engolindo-me lentamente tal qual uma sucuri sonolenta.
Não havia mais o mar a se estender até os confins do imaginário, e muito menos a pedra negra que me servia de cais. De pedras agora só havia as do meio do caminho. Pedras incômodas que me faziam tropeçar e cair como um saco de batatas bêbado defronte cabras que escalavam ladeiras em leveza de organdi.
Belo Horizonte revelava-se o meu pior pesadelo, agora assombrado por um lanche com uma velha senhora que se chamava Júlia. Uma visita que a mim me pareceu um encontro com a Medusa, um encontro que revelaria com todas as letras de todos os alfabetos vivos ou não o meu cruel destino: eu seria para sempre outsider, uma rejeitada tanto pelos meninos como pelas meninas. Não havia jeito: o Olimpo não me queria e eu teria que viver para todo o sempre nas profundezas dos deuses ctônicos, esquecida como eles por todos os mortais e deuses radiantes e empanturrados de beleza.
E foi com esses pensamentos que cheguei ao velho casarão onde dona Júlia morava, um casarão no limite da calçada de uma grande avenida que me pareceu o Rio Letes, guardado por um barqueiro e pelo cão medonho de Hades, o senhor infernal.
No portão, a Medusa me aguardava, disfarçada em gentil senhora. Não me deixei enganar; a altura, a postura ereta e o olhar penetrante não eram os mesmos que eu me acostumara a ver nas anciãs mortais. Lá estava a Medusa, a mulher que a humanidade esquecera e substituíra por pin-ups cultuadas em templos erguidos nos fundos das garagens e nas paredes dos quartos. Lá estava a mulher que em tempos remotos, na época em que a humanidade convivia com os deuses, guardava a sacralidade feminina.
Lembrei-me então de sua cabeça cortada por lança afiada, tombada ao chão como uma bola à espera de um chute, e de quando Pégasus saiu voando de sua cabeça para logo depois ser montado por Perseu. Mas agora ela estava ali, intacta em todo o seu esplendor, pronta para me revelar os antigos mistérios.
Olhando-a ereta à porta, eu me perguntava sobre o porquê de tal associação. Embora o potro indomável da minha imaginação dispensasse explicações lógicas, desta vez algo me dizia que era necessário me ater à realidade. Afinal, eu não estava diante de uma mulher comum: era dona Júlia, a mãe de um presidente!
E foi justamente o fato de ser “dona Júlia, a mãe do presidente” (era assim mesmo que ela era chamada), conhecida em cada canto do país, que me deu a chave da associação que eu havia feito; a figura daquela mulher era tão forte que pela primeira vez na história presidencial o Brasil tivera um presidente cuja presença materna pairava acima do seu cargo. Era como se a presença dela trouxesse de volta, dos confins do esquecimento, os mistérios femininos, os mistérios tão bem guardados pela Medusa.
E lá estava eu, frente à mãe do presidente que propiciara a manifestação plena das Musas, na música, no teatro e em outras artes. Lá estava eu, frente à égua alada (quem disse que Pégasus era um cavalo?) que guiara o imaginário de um homem a ponto de transformá-lo em herói nacional. Lá estava eu, na esperança de me deparar com uma das minhas maiores heroínas.
Qual não foi minha surpresa ao ver que ela não precisara se travestir em homem como minha querida Joana, não se valera de um porrete para se defender dos meninos como Nair, não enlouquecera e buscara a morte como Virgínia Woolf, não enodoara o sorriso com a ferrugem do sarcasmo como Dorothy Parker, e não endurecera o coração como as líderes do movimento feminista que eu tanto admirava.
Quando ela me abraçou, senti o aroma açucarado das flores do campo mesclado com o odor de naftalina e grutas. Seus cabelos impecavelmente presos num coque refletiam os diamantes e as pedras de sua amada Diamantina.
Embora estivesse sobriamente vestida, o tecido de sua roupa tinha o mesmo caimento da chuva num dia tranqüilo de primavera. As pregas da blusa recatadamente abotoada davam a impressão de colunas invisíveis que a plantavam na terra como um sólido templo que o tempo não ousou destruir.
Quando entrei na casa, deparei-me com vagas de paninhos de crochê sobre uma praia de móveis negros, ornados por graciosos objetos. Um majestoso oratório velava a casa, impregnando o ambiente com uma atmosfera sagrada. À mesa, um delicioso lanche nos aguardava, servido sobre uma toalha de fino bordado.
Naquela época eu havia rompido com as rendas, as sedas, os laços de fita, as organzas, os bordados, os veludos e com todos os itens que identificavam as moças bem-comportadas, e não conseguia compreender o prazer que dona Júlia exibia quando respondia a Marco, meu irmão, a procedência de objetos que para mim eram a representação máxima do cárcere feminino.
A princípio culpei a idade avançada pela “lambisgoice feminina” (era assim que eu me referia às artes domésticas das mulheres). Eu não conseguia entender como um dos meus ícones de fortaleza feminina podia estar ali se desmanchando em ternura – naquela época eu ainda não tinha ouvido Che Guevara dizer “hay que endurecer sin perder la ternura” – e explicando pacientemente cada ponto de crochê e os ingredientes dos pães, bolos e doces à mesa.
Não sei se pela decepção estampada em meu rosto ou por intuição mágica que ninguém explica, no meio do lanche dona Júlia quis saber por que eu me vestia como um menino.
A pergunta foi oportuna porque me serviu para expor toda a miscelânea feminista que eu lia à época, e desandei a falar sobre a revolução feminina que estava a caminho, sobre os altos pontos que galgaríamos num futuro sem rendas, cetins e perfumes com cheiro de jardim e pomar. Dona Júlia me escutava atentamente e só me interrompeu quando eu discursava inflamada sobre a coragem de Joana, a do Arco.
- Você está falando sobre a inutilidade das artes femininas, mas já se perguntou quem costurou a roupa que Joana vestiu para ir a guerra? Não teria sido ela própria? Será que Joana pensava em viver eternamente vestida naquela armadura? – ela me perguntou com um olhar matreiro.
As perguntas me caíram como balde de água fria. Ocupada com idéias e atos revolucionários, eu nunca havia parado para pensar sobre aquilo que considerava tão “insignificante”. Para mim era como se Joana já tivesse nascido vestida para guerra e nunca se aproximado de agulhas e tesouras.
- Se ela não fosse tão boa em corte e costura, duvido que soubesse empunhar tão bem uma espada! – dona Júlia exclamou divertida, aconselhando-me a ler a biografia de Joana.
Depois da visita, voltei para casa com uma série de interrogações. Dona Júlia, como boa professora que era, levantara questões que em poucas horas haviam balançado todas as teorias construídas por mim. A primeira interrogação apontava para uma grande contradição: se eu criticava a opressão masculina, não fazia o menor sentido abolir os trajes femininos para me vestir como um menino! Afinal, não havia guerra alguma que me exigisse me travestir para lutar (e se houvesse, nem sei se eu teria coragem para tal).
Enquanto eu me dedicava a procurar explicações para o habitual costume de usar calças jeans e camisas enormes, surrupiadas das gavetas do meu pai, começaram a acontecer uma série de fatos estranhos: durante uma semana inteira vi todas as minhas calças serem roubadas do varal. O ladrão misterioso parecia estar apenas interessado nos meus velhos jeans. A razão de tamanho interesse talvez ficasse por conta da dificuldade em se encontrar autênticas calças wrangler (naquele tempo não havia o comércio massivo de jeans e eles vinham diretamente dos Estados Unidos para uns poucos privilegiados) ou mesmo por artes mágicas, também disponíveis a uns poucos privilegiados...
Independentemente de fatores ligados à demanda e à magia, a verdade é que em curto espaço de tempo fiquei literalmente sem calças, o que me obrigou a vestir as roupas femininas (“próprias para mocinhas” como diziam minha mãe e minhas tias) presenteadas pelas mulheres da família na esperança de um dia me verem vestida como uma “verdadeira princesinha”, como tia Mariza bem dizia.
Quando me olhei no espelho, vestida com uma saia de veludo cotelê cor-de-rosa, um conjunto de blusa e casaquinho de ban-lon vermelho e um par de tênis encardido, constatei que estava mais parecida com um dos sete anões do que com a Branca de Neve.
Quando entrei na sala, definitivamente os olhares não eram de admiração. Meus irmãos desataram em risadas e imediatamente me batizaram com o abominável apelido de “chibichuntum”. A humilhação e o incômodo me foram tão grandes que pela primeira vez não reagi, considerando o apelido justo.
Estóica, atravessei a sala e fui à rua com a vã esperança de localizar o ladrão e reaver minhas calças, observando atentamente qualquer bunda que exibisse uma etiqueta de couro. Localizei bundas que exibiam Lee e Lewis, mas nada de Wrangler. Minhas calças, como minha alma, estavam aprisionadas em algum lugar daquela cidade que eu ainda não conhecia...
Ao voltar para casa encontrei Mirza, uma das divas do colégio, que por hospitalidade mineira ou por incômodo estético me cumprimentou, oferecendo-se para me acompanhar até minha casa.
Caminhando ao seu lado pude entender perfeitamente os sentimentos de admiração e inveja que as antigas gregas nutriam por Afrodite. Em Mirza não havia uma só prega, uma só linha, um só botão que destoassem, e a sua integração com a roupa que vestia era tão perfeita que se poderia dizer que estava nua e ao mesmo tempo coberta por uma segunda pele.
“Futilidades femininas”, eu pensava, enquanto Mirza me perguntava uma série de coisas sobre um Rio de Janeiro que eu não conhecia. Perguntava-me sobre as praias, mas não conseguiu entender que eu só as conhecia nubladas, em dias de chuva solitária. Não conseguiu entender a minha aversão aos dias de sol e às toalhas geometricamente estiradas na areia, como travessas prontas para ir ao forno.
- Você não vai à praia quando faz sol?! – ela perguntou espantada.
Não, eu não ia a praia quando o sol iluminava as águas e escaldava as areias. Não, eu não usava biquíni nem paquerava Apolos bronzeados. Não, eu não sabia jogar frescobol nem conhecia a marca do melhor bronzeador. A praia que eu conhecia se escondia dos cariocas nos dias de chuva, e era vista apenas pelos anzóis dos pescadores que misteriosamente surgiam de cantos que eu desconhecia.
- Se você quiser, nas férias eu te apresento a praia, te ensino a jogar frescobol e te levo à loja onde compro meus biquínis.
Até hoje me pergunto sobre as palavras que consegui dizer durante o trajeto e sinceramente não recordo de como consegui chegar em casa com ela ao meu lado, só me lembro muito vagamente dela sentada à beira da cama, dedilhando o violão que não houvera jeito de eu aprender a tocar.
“Só me lembro muito vagamente da tarde que morria quando de repente...”, ela cantava com displicência, acompanhando-se com os acordes sofisticados de João Gilberto.
Não, decididamente a cena não combinava com o mundo de futilidade que eu atribuía às divas do colégio! Um mundo sem espaço para as coisas “verdadeiramente belas” (era assim que eu denominava a arte, a cultura e os altos ideais). Mas como bem dizia minha avó Vitalina, “tolo é aquele que insiste em não ver”, e tive que aceitar o fato de que havia sido leviana em minha avaliação das divas do colégio. Elas não eram as bonequinhas ocas, as tolinhas acetinadas que eu insistia em ver. Eram moças que não tinham vergonha de ser moças e de cultuar os cosméticos, as sedas e as jóias de Afrodite, da mesma maneira que cultuavam as artes de Atena.
A amizade com Mirza revelou-me um mundo absolutamente novo, um belo horizonte debruado em bordados e linhas delicadas. Com Mirza aprendi preciosos mistérios ocultos na transparência do organdi, nas curvas dos veludos, na luminosidade dos cetins, na teia das rendas e na liberdade dos algodões.
Quando visitei dona Júlia pela segunda vez, eu não vestia as habituais calças jeans. Vestia um delicado vestido de fustão branco, acompanhado por um par de sandálias.
Ao me ver vestida como uma moça, dona Júlia assentiu com um sorriso, exclamando: “Quem foi que disse que a lança de Joana não combina com fustão branco?!”.
Até hoje desconfio que se ela foi poderosa o bastante para fazer um presidente, obviamente também foi poderosa para operar o desaparecimento dos meus jeans e colocar Mirza no meu caminho...







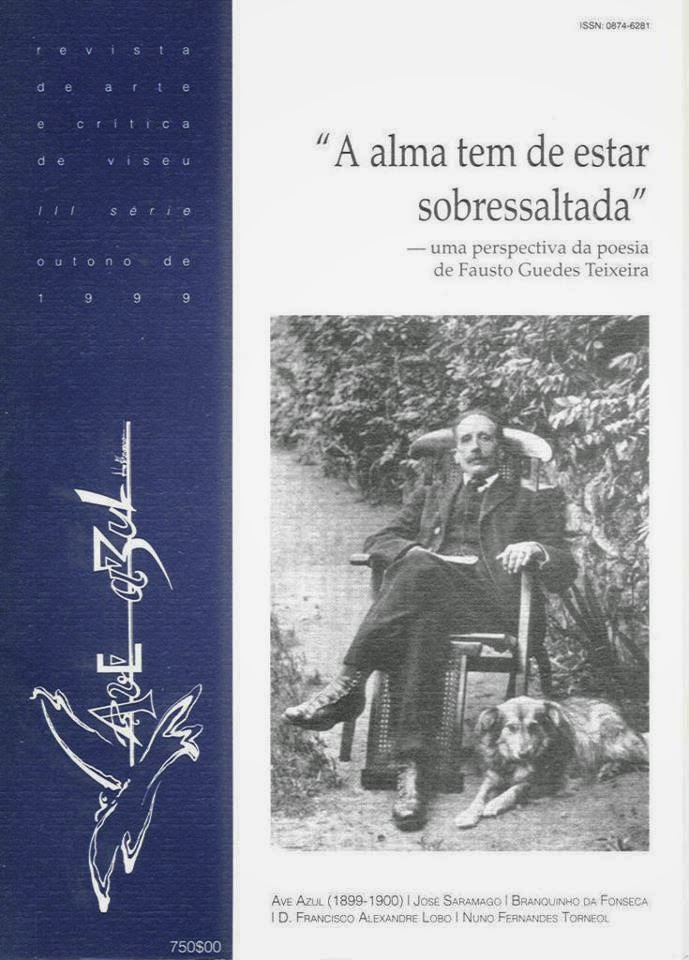
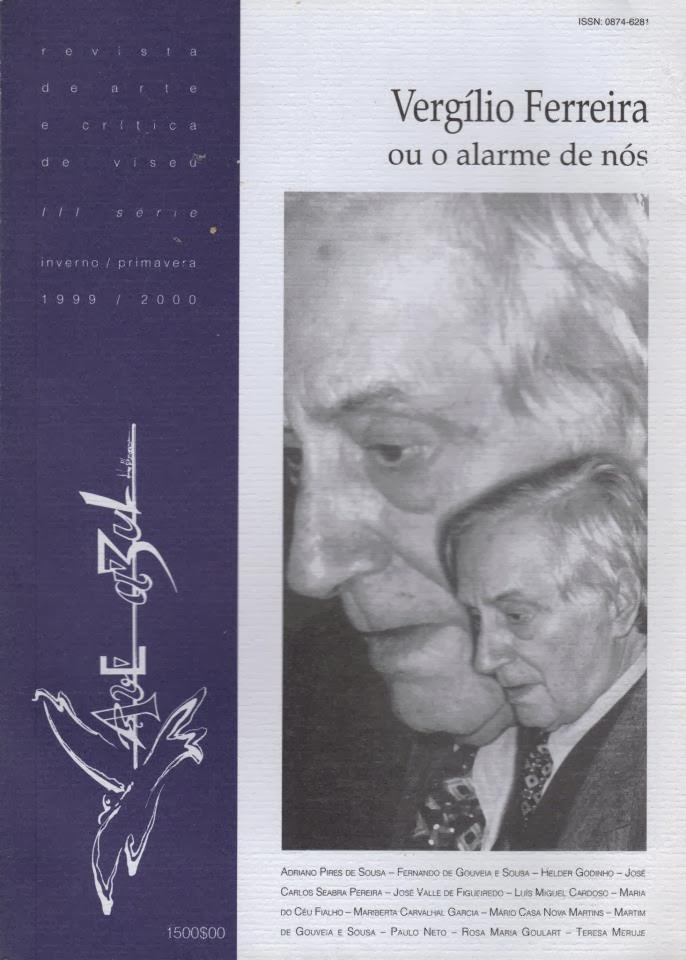

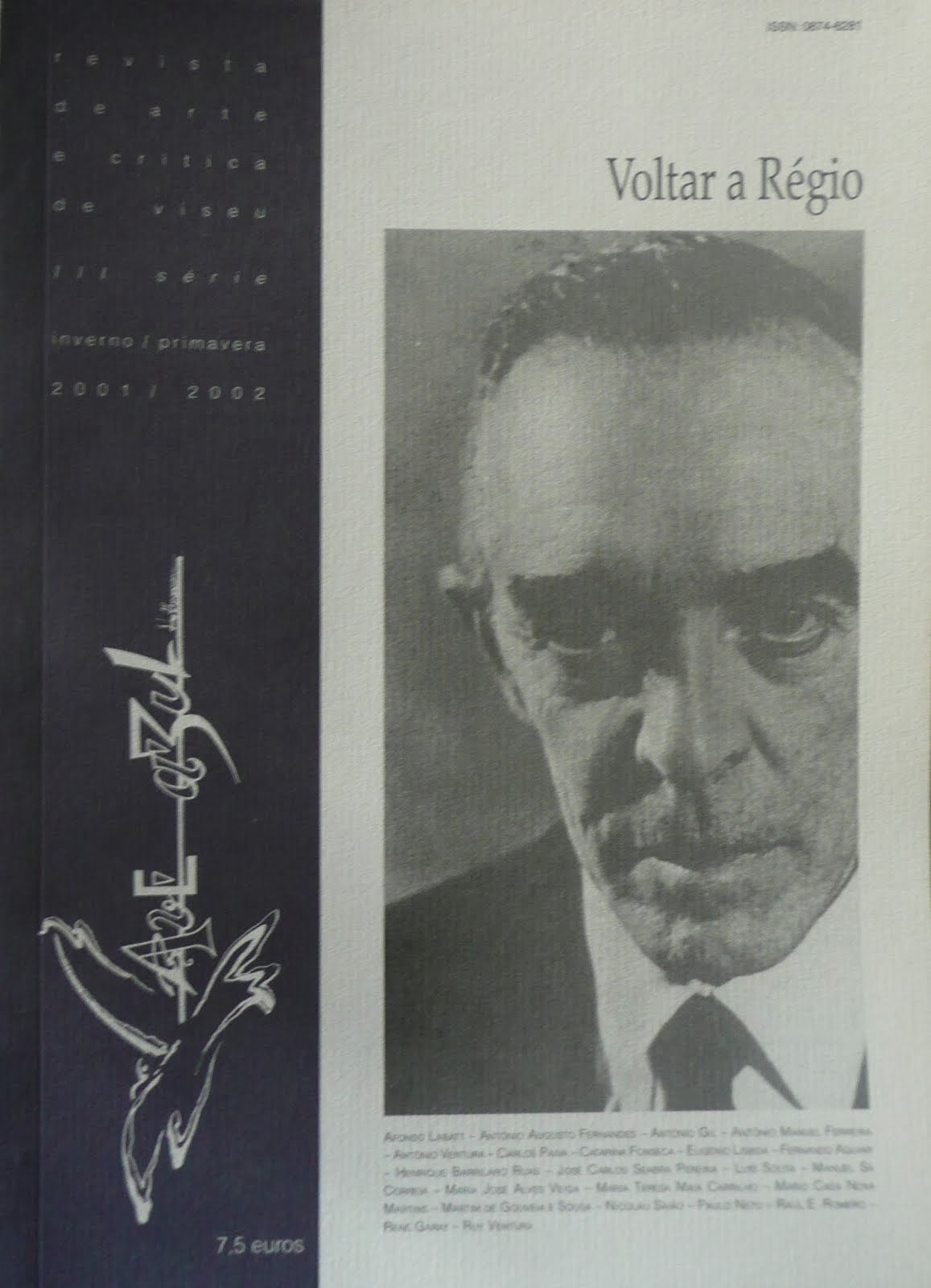









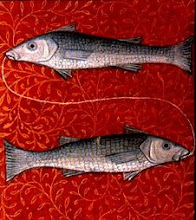

1 comentário:
Vamos com a "Bruxa", então...
Enviar um comentário